Traduzido do artigo de Caroline Framke para o site Vox.com
Um bando de adolescentes esbaforidos esticam os pescoços para conseguir enxergar seu ídolo, ou pelo menos, ver seus cabelos voando quando ela faz uma curva. Alguns deles estão na fila há horas esperando para fazer selfies, comprar seus produtos e, mais importante de tudo, conversar por 30 segundos com uma das pessoas mais importantes de suas vidas.
A pessoa em questão, no caso, é a drag queen Naomi Smalls, que de cima de seus saltos altos mede mais de 2,10 metros e ostenta cílios tão longos e purpurinados que podiam ser vistos reluzindo de longe. Todos gritaram quando ela caminhou até o início da fila; ela respondeu ajeitando o cabelo e abrindo um sorriso: ela estava pronta para encontrar seus fãs. A drag virou-se para as pessoas na frente da fila – duas adolescentes que mal alcançavam seu peito – e abraçou-as com carinho. Cada uma das garotas tentou (sem sucesso) controlar o choro enquanto tiravam fotos.
Assim foi a DragCon, um extenso altar para tudo o que se refere às drag queens, especialmente as ex-participantes do reality show de competição RuPaul’s Drag Race, que encerrou sua nona temporada no dia 23 de junho quando coroou a drag Sasha Velour como a Próxima Superstar Drag da América. A primeira DragCon aconteceu em 2014 e atraiu por volta de 15 mil visitantes ao longo de um final de semana. Dois dias em que os fãs participaram de palestras, tiraram fotos, e consideraram cuidadosamente qual camiseta comprariam (ou seja, qual drag queen ganharia sua devoção). A terceira edição anual, que aconteceu em abril, atraiu o triplo de visitantes: mais de 45 mil pessoas invadiram o Los Angeles Convention Center com o tipo de entusiasmo e exaltação que geralmente são reservados para boy bands.
E para muitos dos fãs de RPDR, a DragCon serve exatamente para isso: é um lugar onde toda e qualquer pessoa pode chegar a dois metros de seus ícones mais adorados.
Quando eu conferi a primeira Dragcon, fiquei impressionada com a enorme quantidade de adolescentes exaltados – em grande parte, garotas adolescentes que costuma-se encontrar disputando os autógrafos de Harry Styles. Eu sabia que Drag Race era popular, mas não percebia o quanto ele havia migrado para além de seus telespectadores iniciais: homens e mulheres queer que já apreciavam a cultura drag. O programa havia alcançado toda uma geração de jovens ávidos.
O mesmo continua valendo – ainda mais – para a DragCon de 2017. Inúmeras vezes pude ver garotos e garotas, com aparelhos nos dentes e tentativas amadoras de maquiagem no rosto, trocando informações sobre qual drag queen estaria dando autógrafos onde; lotavam uma palestra da Teen Vogue (“Resistência na América de Trump”); posavam para fotos enquanto seus pais esperavam, radiantes, por perto; e tentavam conter as lágrimas de idolatria ao se depararem com suas drag queens favoritas. Quando conseguiam realmente fazer uma pergunta, é claro, alguns aproveitavam exibir seu conhecimento enciclopédico sobre qual drag destilou veneno em qual desafio, e outros pediam uma fofoca de bastidor desconhecidas até para o infame subreddit do Drag Race.
Mas, em sua maioria, a garotada queria conselhos.
Depois da palestra de RuPaul (o último evento da convenção), uma garota de 19 anos juntou coragem o suficiente para levantar na frente de centenas de outros fãs como ela e perguntar para seu ídolo, soluçando tanto que mal conseguia falar: “como você faz para acordar de manhã e se convencer que é linda?”.
Foi um momento desconcertante, mas algo que eu já esperava dos fãs do Drag Race depois de assistir, amar, e pesquisar o impacto do programa no público em geral por vários anos. A série sempre se apoiou no sofrimento humano como forma de encontrar a autoaceitação, um tema recorrente na DragCon.
No painel “Me chama de mãe”, destinada a “fãs mirins”, o pedestal do microfone teve que ser ajustado cada vez baixo para que os pré-adolescentes conseguissem usá-lo, nas pontas dos pés. Nele, as drags responderam questões sobre como lidar com medo de palco, projetar autoconfiança, e até mesmo evitar álcool e drogas. A certa altura, Adore Delano – que se monta imitando as garotas do sul da Califórnia que ela invejava durante o ensino médio, e hoje tem mais de um milhão de seguidores no Instagram – olhou para a plateia, com os olhos cheios de lágrimas, e admitiu: “vocês me dão uma autoconfiança que eu nunca tive antes”.
Quando uma garota baixinha com uma coroa de flores na cabeça perguntou como as drags se sentem quando se dão conta que tantos novinhos assistem ao programa, o rosto pintado de Joslyn Fox imediatamente se derreteu num sorriso. “Eu me vejo em vocês”, ela respondeu, “e vocês se inspiram quando eu sou eu mesma”.
Ela tem razão. Para essa horda de jovens com o rosto cheio de glitter, a DragCon foi a oportunidade de encontrar as pessoas que, mais do que despertar admiração e risos, ensinam-lhes como é viver de maneira completamente genuína e espetacular. Bem além dos muros da DragCon, Drag Race catapultou a cultura das drags para bem além de seus redutos costumeiros em bares e boates, por meio do boca a boca e da ascensão simultânea das redes sociais.
O programa expandiu o público das drag queens em geral. O público jovem, em especial, explodiu e formou uma comunidade bem particular.
RuPaul’s Drag Race começou como um programa cult, mas rapidamente tornou-se um verdadeiro fenômeno
Quando RuPaul’s Drag Race estreou em 2009, refletia a determinação que há décadas faz a cultura das drags florescer. Drag Race chegou às telas na Logo, um canal de “nicho” voltado para a programação gay, com apenas algumas centenas de milhares de telespectadores por episódio. RuPaul, autoproclamada Supermodel of the World (supermodelo do mundo), ocupa as posições de apresentadora, mentora e jurada. A série destacava as várias habilidades que uma drag queen excepcional tem que ter, tornando-se um híbrido de Project Runway e American Idol que ainda por cima exigia que as competidoras fossem capazes de fazer uma piada sem qualquer aviso prévio.
Era algo bastante amador, que aproveitou ao máximo um orçamento que, aparentemente, era bastante reduzido – e inevitavelmente tão deslumbrante que apenas uma pessoa totalmente desprovida de alegria no coração seria capaz de parar de assistir quando talentos monumentais como Bebe Zahara Benet e Nina Flowers desfilavam pela passarela. Os desafios iam desde transformar produtos da loja de 1,99 em alta moda, até apresentar programas de entrevista e desfilar pela passarela fazendo passos de vogue como acontecia no documentário Paris Is Burning.
Desde o começo, o segredo do sucesso do programa – e quem sabe até das drag queens em geral – é a capacidade infalível de encontrar alegria e inteligência em toda e qualquer coisa. Como diz o mantra de RuPaul: RuPaul’s Drag Race raramente leva a vida, ou si mesmo, muito a sério.
Mas nem tudo é irreverência. Desde a primeira temporada as drag queens deixavam cair suas personas meticulosamente construídas para que os telespectadores, suas colegas e até elas mesmas compreendessem quem são de verdade. Elas contavam as histórias dolorosas de como foram desprezadas por serem genuínas; compartilhavam a alegria de encontrarem o amor. Algumas declararam-se transgênero, outras soropositivas, outras admitiam combater distúrbios alimentares. Elas tornavam-se amigas ao encontrarem em seus pares o compromisso mútuo de serem belas e diferentes do resto do mundo, sem se deixar abater pelas besteiras retrógradas que entram em seus caminhos.
Sim, Drag Race apresenta diversão cheia de veneno – mas, principalmente, mostra artistas inteligentíssimas competindo pelo direito de serem a melhor versão de si mesmas e amarem-se por causa disso. Como RuPaul diz no final de cada episódio: “Se você não amar a si mesma, como é que vai amar outra pessoa? Podem me dizer amém?” (Amém!).
Essa combinação de cérebro e coração elevou RuPaul’s Drag Race da posição de cult para a de fenômeno. Sua audiência cresce a cada ano, e a nona temporada viu o programa migrar do canal Logo para o canal VH1, mais facilmente acessível. As ex-competidoras do programa – que já somam mais de 100 – costumam fazer shows com ingressos esgotados, atraem milhares e milhares de seguidores no Instagram, estrelam clipes e webséries com milhões de views, e até mesmo encabeçam turnês mundiais. Seus fãs mais dedicados transformam as vidas das drags em um novo reality show fora do programa; como acontece com qualquer estrela de cinema ou da música pop idolatrada por #teens, não há detalhe tão insignificante que não mereça ser considerado.
Fenton Bailey e Randy Barbato – amigos de longa data de RuPaul e co-fundadores da World of Wonder, a produtora que desde o começo levou Drag Race para as telas – afirmam que sempre acreditaram no potencial de Drag Race, especialmente com RuPaul no comando.
“RuPaul é quem torna o mundo das drags em algo acessível e divertido, algo que todos podem curtir”, explicou Barbato uma semana antes da DragCon. “Foram necessários apenas alguns minutos para que ele, o programa, e o mundo das drags alcançassem o patamar que nós acreditamos que ele sempre mereceu.”
Ou, como Bailey diz, mais diretamente: “Ele é uma puta estrela… era apenas questão do mundo alcançá-lo.”

A maioria das pessoas considera que a temporada decisiva foi a quarta, que foi ao ar em 2012 e contava com talentos excepcionais como Latrice Royale, ao mesmo tempo hilária e cheia de seriedade; Willam, a comediante mordaz; e a vencedora Sharon Needles (bordão: “em caso de dúvida, assuste-os”). Mas a jurada e confidente de RuPaul, Michelle Visage, acredita que foi em 2013, entre as temporadas cinco e seis, que ela sentiu que o público de Drag Race realmente começou a mudar.
Visage contou por telefone, recentemente, que conforme ela e as drag queens começaram a fazer mais apresentações fora do circuito dos bares para atender a um número maior de fãs, elas percebiam “uma porção de novinhos, garotos montados ao lado de suas mães, e um monte de garotas adolescentes… Drag Race deixou de se dirigir apenas para seus seguidores mais cult e tornou-se um programa de televisão necessário, que abre o diálogo sobre ‘não ser normal, e tudo bem’.”
Visage e outras pessoas como Barbato e Bailey consideram que Drag Race fez um esforço consciente de abrir sua comunidade para uma geração mais jovem, que tradicionalmente tinha muita dificuldade para interagir com as drag queens e seu orgulho por serem incomuns. Mesmo quando os jovens queer, em busca de uma comunidade, escapavam para os clubes onde as drags se apresentam – como acontece há décadas – raramente conseguiam encontrar os alvos de suas fantasias drag à luz do dia, em convenções, acompanhados pelos pais, num ambiente seguro.
“Isso é muito mais que apenas um programa de televisão para essas pessoas”, continua Visage. “É algo muito maior do que qualquer um de nós imaginava. É algo que cresce, cresce, e cresce mais.”
A nova fama trouxe uma legião de novos fãs, mais jovens do que as drag queens costumavam ter
“Antes de participar de Drag Race, a maioria dos meus fãs eram pessoas que tinham idade para entrar num bar gay ou numa boate”, escreveu por e-mail Peppermint, finalista da nona temporada com mais de 20 anos de carreira em Nova York. “Agora isso mudou completamente.”
Literalmente todas as ex-participantes de Drag Race que eu entrevistei disseram a mesma coisa. Sasha Velour, vencedora da nona temporada, contou que seus fãs eram todos “pessoas que moravam num raio de 20 quarteirões de minha casa, e frequentavam meus shows de drag… que também aconteciam num raio de 20 quarteirões da minha casa.” Agora, afirma, “eu literalmente sou capaz de falar com pessoas do mundo todo, pessoas que podem se tornar minhas melhores amigas, pessoas com quem eu posso me conectar profundamente.”
Se você não acredita, confira os números: Sasha tinha menos de 2 mil seguidores no Instagram antes de aparecer no programa; depois de vencer, ela já tinha 500 mil, grande parte deles adolescentes dedicadíssimos que proclamam sua lealdade à “Casa Velour”. Para sua grata surpresa, Sasha descobriu que ter fãs mais jovens significa ter fãs que dificilmente questionam se o visual de uma drag pode ser algo esquisito que distorce a identidade de gênero e faz uso de uma monocelha.
“Os adolescentes são bastante progressistas na questão da estética drag”, comemora Sasha. “Eu nunca senti a necessidade de defender meu estilo de drag ou minhas criações mais andróginas.”
Com a velocidade das mídias sociais, o foco das drags em participarem de eventos destinados a todas as idades, e o esforço do programa Drag Race para agradar seu público mais jovem com segmentos educacionais e competidoras mais jovens, os adolescentes de agora – estejam eles reunidos nas esquinas de Nova York ou fazendo festas no Brasil – são capazes de se envolverem na cena drag de uma maneira que antes era literalmente impossível. Eles conseguem encontrar as drag queens no Instagram, riem com seus vídeos no Youtube, fazem desenhos de seus ídolos, e encontram outros fãs no Tumblr. Em outras palavras, conseguem encontrar uma comunidade de desajustados como eles mesmos com apenas um minuto de busca no Google.
E quanto às fãs adolescentes… bem, quem melhor para explicar isso que a própria Michelle Visage, que descobriu a subcultura drag quando ela mesma era uma garota adolescente inquieta.
“Eu me dei conta que essas garotas são como eu. Eu era assim quando mais nova”, reconhece. “Elas são garotas que não se ajustam; são garotas inadequadas.”
Para encontrar a família de sua escolha, Visage, quando adolescente – cabelo azul com corte moicano, obcecada por musicais e tudo mais – abandonou Nova Jersey e partiu para o East Village em Nova York, onde entrava escondida em boates, conheceu RuPaul, e tornou-se parte de um grupo musical feminino. Já hoje, ela afirma levemente pasmada, as garotas podem simplesmente ligar a TV ou abrir o Instagram e, instantaneamente, encontrar as pessoas bizarramente maravilhosas que ela sofreu tanto para descobrir.
Durante a DragCon, Acid Betty – ex-participante da oitava temporada, 16 anos de carreira e uma queda por mohawks elaborados – declarou, espantada, que a arte das drags nunca foi “tão aceita e tão mainstream quanto hoje”.
“Agora nós saímos sem constrangimento e participamos de convenções que duram todo um final de semana, em lugares que têm até playground“, afirmou, apontando com os olhos para uma área em que se encontrava um castelo-pula-pula e uma área para estacionar carrinhos de bebê. “É fantástico.”
RuPaul não concorda muito com o rótulo “mainstream”. Numa entrevista feita em 2016, durante a oitava temporada de seu programa, ele afirmou que drag sempre será “a antítese do mainstream” porque sua natureza é, inerentemente, tentar ferrar com o status quo. Mas ele também concede que a popularidade de Drag Race provavelmente é o “mais mainstream que as drags vão ser”, especialmente a partir do momento em que uma nova geração de aspirantes a drag queens inspiram-se em seu programa. A seu ver, a oitava temporada – estrelada por Naomi Smalls, Kim Chi, superpopular no Instagram, e Bob, a “drag do povo” – tornou-se, nas palavras do próprio RuPaul, “o Drag Race da nova geração”, formada “pelos jovens que cresceram assistindo o programa”.
Naomi Smalls, depois de confidenciar, com certo espanto, que seus fãs vão de crianças dos 4 aos 17 anos, afirmou que adora ser um tipo de ícone mais “acessível” para seus fãs. “Quando eu tinha a idade deles, não era fácil sair e encontrar Lady Gaga”, relembra Smalls. “Acho que é tão bacana que eles são capazes de gravitar para essas drag queens, mais acessíveis.”
E essa acessibilidade vai além da mera logística de tempo, espaço, e restrições de idade. Durante a temporada de Naomi, Kim Chi tornou-se uma favorita dos fãs ao admitir que não se sentia confortável em contar para sua mãe que fazia drag, e do sofrimento que vinha de crescer no armário, além de “gorda, afeminada e oriental”. Quando Ru pediu que Kim Chi, no final da temporada, desse um conselho para si mesma quando mais jovem, ela caiu no pranto, mas conseguiu dizer que “todas essas coisas que mais envergonham você serão as coisas pelas quais você será mais amada” – o que é a mais pura verdade.
Para os jovens que não se veem refletidos na cultura pop e/ou querem ser tão lacradores quanto seus ídolos que desafiam as regras do gênero, as drag queens são modelos. E isso pode ser a verdadeira recompensa para as competidoras do programa – especialmente porque o entusiasmo de seus fãs mais jovens lhes é algo bastante familiar.
“Eu sempre achei que fazer drag é algo natural para as crianças”, contou Sasha Velour durante a DragCon. “Eu sinto que estou mais conectada à minha criança interior quando eu me monto, porque eu sei que a ideia de brincar e a flexibilidade quanto ao que minha identidade é ou pode ser são coisas com que as crianças se conectam imediatamente. Acho que vamos ter uma geração de adultos incríveis formada por essas crianças que adoram o Drag Race.”
De fato as crianças estão crescendo com o programa. “Tem gente que chega até mim e diz ‘eu assisto você desde que eu estava na sétima série'”, relatou Shangela, participante das temporadas 2 e 3, erguendo as sobrancelhas numa revolta fingida, antes de cair na gargalhada. Quando apareceu no programa pela primeira vez, era uma novata de 23 anos. Hoje, Shangela reconhece que sua persona drag “realmente cresceu sob o olhar de muita gente – e com muita gente, também.”
O poder que hoje as drag queens têm de se conectarem com as pessoas em grande escala, tanto por meio do programa como por meio da internet, é um instrumento incrivelmente poderoso. Mas, assim como inúmeras celebridades já descobriram e continuam a descobrir, essa nova habilidade que os fãs têm de alcançar seus ídolos pode acabar mal – como já aconteceu algumas vezes com Drag Race, de maneiras que o programa não pode mais ignorar.
Em 2017 ser famoso significa ser acessível – para o bem e para o mal
Nem todas as drag queens gostam da maneira como Drag Race fez com que a cultura drag se tornasse uma parte importante da cultura pop. Drag queens como Sharon Needles constantemente tentam lembrar seus fãs de que devem aprender sobre a verdadeira história das drag queens, para além do programa. Jasmine Masters, competidora da sétima temporada, já declarou que “Drag Race cagou com o mundo das drags” ao criar uma cultura em que as drag queens que não participaram do programa são excluídas em favor de qualquer outra que já esteve nele, independente de outras qualificações ou a falta delas.
A essa altura, um dos efeitos colaterais da popularidade de Drag Race é que, de certa forma, as drag queens não estão mais realmente disputando o título de “Próxima Superstar Drag da América”. Elas na verdade estão de olho no que acontece depois do programa, e como fazer com que sua nova fama se transforme numa carreira duradoura.
Essa preocupação com suas carreiras pós-programa, sejamos sinceros, fez com que as temporadas de Drag Race se tornassem menos emocionantes. As temporadas iniciais, menos populares e menos profissionais, continham situações em que as drag queens se atacavam num piscar de cílios postiços. As competidoras das últimas temporadas são muito mais cuidadosas, muito mais conscientes de como um comentário venenoso pode ser devassado pelos fãs mais empolgados do programa – grande parte deles, adolescentes -, ansiosos por encontrar (ou fazer) drama onde talvez não houvesse nada.
Drag race is a great entertainment. Don't take the fun out of it by feeling the need to attack any queen from the show.
— Kim Chi (@KimChi_Chic) June 17, 2017
Essa nova consciência de si mesmas criou momentos memoráveis em RuPaul’s Drag Race All Stars 2, exibido em 2016. Favoritas como Katya, da sétima temporada, e Alaska Thunderfuck e Alyssa Edwards, da quinta temporada, retornaram ao programa depois de conferirem o que seu tempo na TV fez por suas carreiras, e fizeram o que podiam para mudar ou explorar suas reputações.
All Stars 2 também deixou claro como o jogo também mudou fora das telas. Sempre houve fãs de Drag Race que miravam especificamente em algumas drag queens, mas a linha entre competidora e telespectador nunca foi tão tênue do que nos últimos dois ou três anos, na medida em que as drags passaram a contar cada vez mais com as mídias sociais para se autopromoverem. E se uma legião de fãs enxergar uma razão para atacar alguém… bem, as coisas podem ficar bem feias.
A certa altura de All Stars 2, por exemplo, a aparente trairagem de Alaska fez com que fãs atacassem sua conta no Twitter e invadissem os comentários de sua conta no Instagram, metralhando-os com emojis de cobra. Alaska, uma drag queen comediante particularmente inteligente, rapidamente virou o jogo produzindo uma série de vídeos em que se autoproclamava a Rainha das Cobras, mandando um “foda-se” para os descontentes.
Alaska foi capaz de dar a volta por cima de todo o assédio de que foi alvo. Já a maneira como a nona temporada foi recebida pelos fãs do programa deu a sensação de que se tratava de um programa totalmente diferente.
O programa pegou fogo quando Valentina, uma das favoritas particularmente entre os telespectadores mais jovens, foi eliminada bem antes do que se esperava por não conhecer a letra de uma dublagem no final do episódio. Fãs enfurecidos ocuparam as mídias sociais das outras competidoras e começaram a ofendê-las e a ameaçá-las, transformando espaços que até então eram espaços de apoio em covis de abuso.
Aja, a competidora da nona temporada que questionou a razão por que os jurados amavam tanto Valentina em comentários mordazes (e, sinceramente, brilhantes) que já foram transformados até em música para as pistas, foi tão bombardeada por comentários odiosos que transformou o que vivenciou (e os comentários em si) em um monólogo dos mais sérios.
Esse fenômeno da nona temporada foi discutido mais tarde no episódio que reuniu todas as participantes, gravado depois de tempo o suficiente para que as outras competidoras perguntassem para Valentina, à queima-roupa, por que ela não fez nenhuma declaração contra esse tipo de assédio.
“Eu não concordo com esse tipo de comportamento porque não é o tipo de pessoa que eu sou”, Valentina disse por fim, para então ouvir a resposta de Peppermint, erguendo as mâos: “por que é então que você não falou isso para a mídia?”. Depois que o reencontro foi ao ar, Valentina pediu que seus fãs colocassem emojis de rosa nos Instagrams das outras drag queens como sinal de boa vontade – uma manobra que talvez tivesse como objetivo subverter o ódio expressado pela avalanche de cobras nos perfis de Alaska, mas outros consideraram mais como uma vingança passivo-agressivo que um gesto genuinamente afetuoso.
Esse é o tipo de conflito que poucos anos atrás seria considerado hiperbólico. Agora, a celebridade ganhada por meio de Drag Race traz o mesmo tipo de tretas online que outras estrelas pop vêm evitando há décadas, algo com que as drags vão ter que lidar daqui para frente.
“Eu fico triste que esses jovens acham que não há problema em espalhar tanto ódio no universo”, lamenta Visage. “Hoje, mais do que nunca, precisamos que os jovens postem rosas nos comentários com sinceridade.”
Drag Race inspira os jovens a aceitarem quem são, e isso é fantástico
Mas, assim como a maior parte dos absurdos online, a facção abusiva dos fãs de Drag Race é uma minoria barulhenta. Alguns fãs se aproveitam do fato de que as competidoras de Drag Race são tão acessíveis, mas a maior parte deles criam peças de arte e expressam um amor verdadeiro pelas drag queens, de uma forma que as lembra da razão por que quiseram entrar em Drag Race.
Depois que o episódio do reencontro na nona temporada reacendeu a fogueira dos conflitos entre fãs, por exemplo, outros fãs iniciaram hashtags de apoio a suas dras favoritas para que elas se sentissem melhor. Uma busca pela hashtag #SmilesForSasha revela uma legião de fãs adolescentes, radiantes, agradecendo Sasha Velour por ser alguém que “sempre me faz sorrir”, por “ajudar a me aceitar” ou, simplesmente por ser “meu tudo”.
Em outras palavras, há toda uma juventude que encontra pedaços de si mesmos em uma pessoa inesperada, e que são imensamente gratos por isso.
Apesar dos transtornos que surgiram durante a temporada, Peppermint afirma que ainda adora usar as mídias sociais “para me conectar com a juventude queer que se sente isolada e abandonada em suas comunidades”. Afinal de contas, continua, “a sensação de pertencer a uma comunidade que sentimos nos bares não está necessariamente disponível para esses adolescentes – mas eles ainda precisam de alguém que os escute”.
Talvez seja simplesmente isso: esses jovens não querem apenas serem ouvidos – eles querem alguém que realmente os escute, enxergue, e ame pelas pessoas lindamente esquisitas que são. Eles podem almejar ser alguém que faz bom uso de sua estranheza como Sasha, alguém que fala abertamente sobre suas ansiedades como Katya, alguém que permite-se falar sobre seus conflitos como Kim Chi. Eles veem essas drags reconhecerem suas vulnerabilidades e emergirem mais belas do que nunca, mesmo se tiveram que se montar em cima da hora usando literalmente nada mais que sucata.
Às vezes – e especialmente quando você é jovem e parece que tudo o que há de melhor e de pior colide dentro de seu coração e em seu cérebro ao mesmo tempo – você só precisa de alguém que garanta que você tem valor, de alguém que você acha que seja capaz de realmente compreender.
Então, não, eu não fiquei surpresa quando aquela garota na DragCon permitiu-se chorar e perguntou para RuPaul, Supermodelo do Mundo, como ele faz para acordar todos os dias e saber que é linda – tampouco surpreendeu-se RuPaul. Enquanto a garota lutava para manter a compostura, ele caminhou até a beirada do palco e olhou em seus olhos.
“Eu estou olhando para você”, RuPaul disse para ela, “e você é linda.”








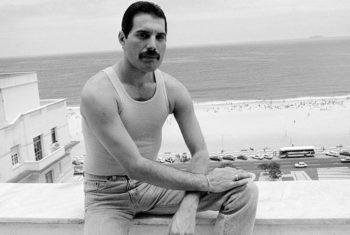

Concordo com Rupaul mesmo expandindo seu público, ser drag ou a cultura drag nunca será cultura de massa, nunca será mainstream. Acho muito boa essa expansão, sobretudo da nossa Pablo querida, porém sempre haverá o nosso underground no âmago destes programas, na cultura, nunca padrão, nunca massificação industrial, o público em geral descobriu a arte drag, é um show sendo necessário criar certos climas artifícios, vejo o público adulto muito inserido tbm contando suas lutas dramas, vale a pena.