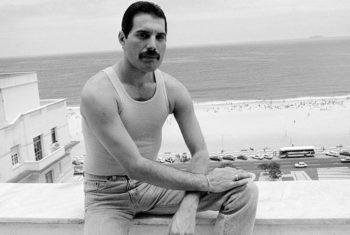Traduzido do artigo de Martin Aston para o jornal The Guardian
A certa altura do videoclipe “Nikes”, de Frank Ocean, fica claro que o corpo nu que está sendo mostrado é feminino; seios e nádegas proliferam nos closes, enquanto as tomadas de torsos masculinos são breves e encobertos por sombras.
De certa forma, isso reflete a identidade pública do próprio Ocean. Antes do mundo escutar seu álbum de estreia, Channel Orange, e suas três canções que mostravam um homem como seu interesse amoroso, um post inesperado no Tumblr já explicava que seu primeiro amor foi por um homem, não uma mulher. Essa declaração não afirmava com todas as letras que o compositor era gay (apesar de que os versos “Minha mente retornava às mulheres com quem já estive. Aquelas por quem tinha carido e pensava que havia me apaixonado” sugeriam isso). Agora seu novo álbum, Blonde, apresenta apenas uma canção em que se utiliza o pronome masculino – “Good Guy”, sobre um encontro malsucedido num bar gay. Apesar de Ocean ser um representante perfeito da era de gênero fluido, seus vídeos sugerem uma necessidade comercial de se garantir imagens com as quais o público heterossexual consegue se identificar.
No ano passado, o líder da banda Years & Years, Olly Aexander, ponderou sobre essa mesma questão enquanto promovia seu novo álbum, Communion. “Eu gostaria de escutar um artista gay que expressasse sua sexualidade de maneira realmente aberta”, afirmou. “Isso é algo que meio que tentamos fazer de leve nesse álbum, mas ser capaz de falar sobre sexo é algo que parece ser novo para artistas gays, e eu gostaria que isso se tornasse comum”. Se alguém tem tal oportunidade, é Alexander. Mas fazê-lo “de leve” se resumiu a pronomes masculinos em apenas duas canções, algo que Alexander considera “uma pequena vitória”. Por que não buscar a vitória maior, que ocupe um álbum inteiro? Será que, com isso, seus fãs se reduziriam para apenas um décimo da quantidade atual – a porcentagem que tradicionalmente se dá para a população queer?
Seja como for, falar de sexo está longe de ser novidade para artistas homossexuais. Eles já aprontavam em suas canções há quase 100 anos, no Harlem dos anos 1920, quando os cantores de blues como Ma Rainey e Bessie Smith cantavam sobre seus casos homoafetivos. Até mesmo os gays, menos abertos que as mulheres, se aproveitaram do breve período de permissividade cultural que se seguiu à Primeira Guerra – George Hannah compôs e cantou a canção “Freakish Man Blues” em 1930, por exemplo. Para além do blues, em 1920 surgiu o primeiro hino de orgulho gay, “Das Lila Lied”, escrita pela dupla Spoliansky e Schawabach, residente em Berlim. Em 1930 Nova York foi tomada pela “Onda das Bichinhas”. Dessa fase emergiu Gene – às vezes também escrito “Jean” – Malin, com o single de 78 rpm “I’d Rather Be Spanish Than Mannish” (“Prefiro ser espanhol que machão”). A “Onda das Bichinhas” logo chegou ao fim, no entanto, com a crise econômica de 1929 e a Grande Depressão, que desencadeou uma nova fase de preconceito religioso e repressão social.
Costuma-se dizer que as duas décadas mais liberais do século 20 foram as de 1920 e 1970; entre elas, o McCarthismo abriu as portas para uma nova era de homofobia, e as instituições de vários outros países lutaram com a mesma intensidade para desencorajar a tolerância e o progresso social. Por essas razões que “Tutti Frutti”, de Little Richard, foi censurada: a letra original dizia “Tutti Frutti, good booty / If it don’t fit, don’t force it / You can grease it, make it easy” (“Tutti Frutti, bundinha boa / Se não encaixa, não força / Lubrifica, e facilita”, em tradução livre), privando o mundo de uma ode ao sexo anal 30 anos do lançamento de “Relax”, do grupo “Frankie Goes to Hollywood”. No Reino Unido, foi apenas em 1967 que a homossexualidade deixou de ser crime – e mesmo assim, apenas para maiores de 21 anos, na Inglaterra e no País de Gales. Considerando-se também que o movimento pelos direitos LGBT só ganhou projeção depois da Revolta de Stonewall em 1969, não chega a surpreender que cantores, atores e músicos não desejavam divulgar seus desejos homoafetivos.
Mesmo na era pós-Stonewall, décadas de vergonha e sigilo só foram efetivamente combatidas por David Bowie, um pai de família casado. No entanto, algumas de suas canções (“The Width of a Circle”; “Queen Bitch”; “John, I’m Only Dancing”) apresentam tramas gays com pronomes masculinos. Dusty Springfield foi primeira cantora britânico a sair do armário (no jornal London Evening Standard, em 1970), e no entanto nunca cantou uma canção sobre seu amor por mulheres em toda sua vida. Cantores escancaradamente gays como Michael Cohen, que imitava o estilo confessional e dolorido de James Taylor, vendia pouquíssimos discos. Os gays buscaram o ritmo disco, preferindo a festa às memórias do armário que mal haviam deixado para trás. E, mesmo assim, os gays preferiam as divas para expressar seus sentimentos.
Finalmente, em 1978, a canção “(Sing If You’re) Glad To Be Gay”, da Tom Robinson’s Band, alcançou o top 20. Se por um lado, a princípio, artistas gays pioneiros como Marc Almond e Boy George hesitarem em declarar-se homossexuais e evitarem o uso de pronomes masculinos, o período ganhou marcos como “Relax”, da já citada Frankie Goes To Hollywood (a orgia no bar leather exibida no videoclipe foi algo até então inédito) e “Smalltown Boy” de Bronski Beat (também inovador ao retratar cenas de cruising e de homofobia).
Essa fase logo chegou ao fim não por causa da economia, mas com o surgimento de um vírus. Conforme a Aids devastava a comunidade gay, bandas como os Beastie Boys e Guns’N’Roses incentivavam a homofobia em álbuns que vendiam milhões de cópias. Se a Aids jamais tivesse existido, talvez uma horda de estrelas queer tivesse tomado as paradas de sucesso. Ironicamente, a Aids de certa forma também ajudou a causa, humanizando a comunidade gay e obtendo declarações de apoio vindas de astros heterossexuais de sucesso. Figuras como KD Lang, Melissa Etheridge e Michael Stipe declararam-se homossexuais, e o armário musical começou a se esvaziar rapidamente.
Agora, em 2016, Will Young, Beth Ditto, Adam Lambert, Sam Smith e Olly Alexander são astros pop que não deixam sombras de dúvida sobre suas preferências em entrevistas e, às vezes, em seus vídeos. Miley Cyrus promove sua pansexualidade e seu apoio aos direitos das pessoas transgênero, e até mesmo o hip-hop está mudando, com rappers comos Young Thug promovendo a androginia, e o rapper queer Mykki Blanco colocando-se na linha de frente, enquanto o herói trans – e astro de reality shows – Big Freedia participa do clipe de “Formation”, de Beyoncé. Se Eminem soltasse hoje outro insulto homofóbico, a reação do público seria mais para a revolta que para a tolerância.
Não nos esqueçamos de John Grant, o cantor que mais utiliza pronomes masculinos de todos e que recentemente esgotou os ingressos para seus shows no Royal Albert Hall em Londres. Rostam Batmanglij, ex-integrante da bem-sucedida banda Vampire Weekend, também está fora do armário. A música country, outro gênero tradicionalmente homofóbico, tem inúmeros artistas gays e lésbicas gravando em Nashville, de Brandy Clark a Shane McAnally. Seguindo os passos do rei do heavy metal Rob Halford, até o death metal e o grindcore já conseguiram seus figurões abertamente queer. É claro que eu ficaria feliz se as próximas canções de Frank Ocean, Olly Alexander e Sam Smith passassem a utilizar mais o masculino “he” que o indefinido “you”, mas talvez nesse caso o que se faz vale mais que o que se diz. em outras palavras, o amor que não ousa dizer seu nome, como colocou Oscar Wilde, talvez não precise ser cantado para se fazer escutar.