Traduzido do artigo de Nico Lang para o jornal The Guardian
Por toda a história do cinema, comportamentos que fogem do heteronormativo foram associados com a maldade e a vilania – seja a homossexualidade explícita, ou insinuações gays colocadas nas afetações de um personagem.
Esse legado problemático – que, muitas vezes, trata a atração por alguém do mesmo sexo como a causa de uma perversão violenta – pode ser um fardo para a plateia queer em busca de maior representação positiva. Mas aprender a lidar com o histórico sólido de vilões afetados e arquétipos LGBT problemáticos do cinema, ou até mesmo a aceitá-los, leva a uma atitude radical com relação à fuga do padrões normativos, arma já usada em outras oportunidades: apropriar-se de algo imperfeito e transformá-lo.
Como um relatório do Glaad publicado em setembro demonstrou, os estúdios de Hollywood estão deixando o público LGBT na mão. Ao mesmo tempo em que menos de 20% dos filmes de maior bilheteria de 2014 apresentavam um personagem LGBT, muitos (como Ted 2) utilizavam gays como alvo de piadas. Na última semana surgiu outra polêmica: a atriz Michelle Rodriguez foi alvo de controvérsia por interpretar uma assassina transgênero no filme Tomboy, A Revenger’s Tale, ainda a ser lançado. Nick Adam’s, da ONG Glaad, corretamente criticou o uso problemático de questões trans no filme como “uma trama sensacionalista”.
Esse problema está longe de ser novo. Por toda a história do cinema, pessoas queer não eram apenas o motivo das piadas – elas representavam um mal subentendido. Em filmes como Psicose, de Alfred Hitchcock, ou Relíquia Macabra, de John Huston, as supostas propensões homossexuais dos vilões afeminados serviam para colocá-los na posição do “outro”. O dr. Robert Elliott, um assassino trans digno de Hitchcock intepretado por Michael Caine em Vestida para matar, de 1980, dirigido por Brian de Palma, foi um dos primeiros filmes a tornar-se alvo de protestos de grupos LGBT por causa da maneira como representou pessoas queer – seguido por O silêncio dos inocentes.
No documentário Do I Sound Gay? (“Eu soo gay?”), o documentarista David Thorpe aponta que o vilão gay também é absurdamente preponderante no panteão de personagens Disney: vários de seus longas animados, de Mogli a Aladdin, apresentam um antagonista afeminado animado. Nesse primeiro, George Saunders deu voz a Shere Khan na versão original em inglês, uma escolha astuta: Saunders interpretou o igualmente afetado Addison Dewitt, um crítico de teatro venenoso, em A malvada, 17 anos antes.
O que é único nos personagens suspeitos da Disney, no entanto, é que eles são quase sempre a coisa mais memorável do filme; eles podem ser maus, mas, na falta de termo melhor, são ótimos.
Tirando a interpretação diabolicamente divertida de James Woods do vilão Hades, o filme Hércules, de 1997, é totalmente dispensável. E há uma razão por que o site Thought Catalogue já declarou uma vez que a vilã Úrsula é “a melhor de todas as princesas Disney”. Baseada em Divine, uma das colaboradoras mais frequentes do diretor John Waters, Úrsula simplesmente rouba a cena de Ariel ao erguer suas sobrancelhas impossivelmente arqueadas. Ela é a diva que lançou milhares de fantasias de drag queens.
Esses vilões queer não são modelos a serem seguidos no sentido convencional. Úrsula é uma bruxa do mar que rouba a voz de uma mulher para obter o domínio dos oceanos. Frank N. Furter, em The Rocky Horror Picture Show, é um canibal assassino e estuprador que cria seu próprio escravo sexual. Num ensaio recente, Caelyn Sandel apontou que apesar de todo o apelo desse personagem, ele é bastante problemático. “O Dr. Frank N. Furter não é um exemplo de representatividade positiva queer”, ela escreve. “Ele é uma tonelada de estereótipos antiquados e sujos ligados a LGBTs misturados em um só personagem.”
De certa maneira, Sandel está absolutamente correta de que o Frank N. Furter de Tim Curry é sensacional, mas está longe de ser um herói – nem é essa a intenção. Isso não significa, no entanto, que nós não possamos encontrar aspectos em sua persona de que gostamos e que queremos imitar: a liberdade sexual e de gênero de Frank N. Furter e a maneira fabulosa como ele usa um colar de pérolas, por exemplo.
Esses personagens podem não ser perfeitos, nem sequer pessoas de bem, mas essa não é a razão pela qual eles são necessários. Em uma entrevista dada a Craig Ferguson em 2011, John Waters defendeu o direito das pessoas queer de serem como todas as outras: complicadas, perturbadas ou até mesmo simplesmente depravadas.
“Por que é que de repente nós temos que ser ‘bonzinhos’?”, alfinetou Waters. “Eu sou a favor dos direitos das mães lésbicas ruins.” A própria obra de Waters é um testamento de seu amor pelas pessoas LGBT “más”, de sua amizade com Leslie Van Houten (que já dura décadas) aos bandos de excluídos que ele apresenta em filmes como Pink Flamingo, que mais parecem um bando de psicopatas.
Numa indústria que muitas vezes diz para os espectadores LGBT que ser queer é ruim quando utiliza piadas preguiçosas e homofóbicas, os vilões queer nos lembram que aceitar seu lado negro não é apenas liberador – ser mau pode ser absolutamente divino.








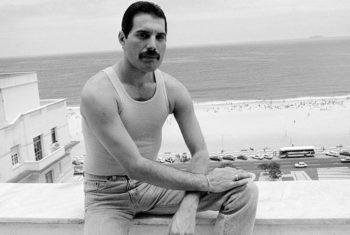

Penso que seria um problema se só existissem vilões gays ou se os gays só fossem retratados como vilões. Não é o caso. Mas clclaro que admito que faltam protagonismo de personagens LGBT. Já pensaram que lindo seria uma Lara Croft trans ou um James Bond viado. Quanto aos vilões, no caso da Disney me parece sim um Discurso velado contra lgbts mas a maioria dos outros citados no texto me parece um caso de hipersensibilidade.
Muitos vilões bem trabalhados, outros nem tando, mas… Acho que já está na hora de termos uns mocinhos que curtam a mesma fruta ;-;
Lembro que minha mãe usava a “sexualidade” de alguns vilões como link para as maldades deles, eu ficava meio “não quero ser o vilão, mesmo gostando de meninos @-@”